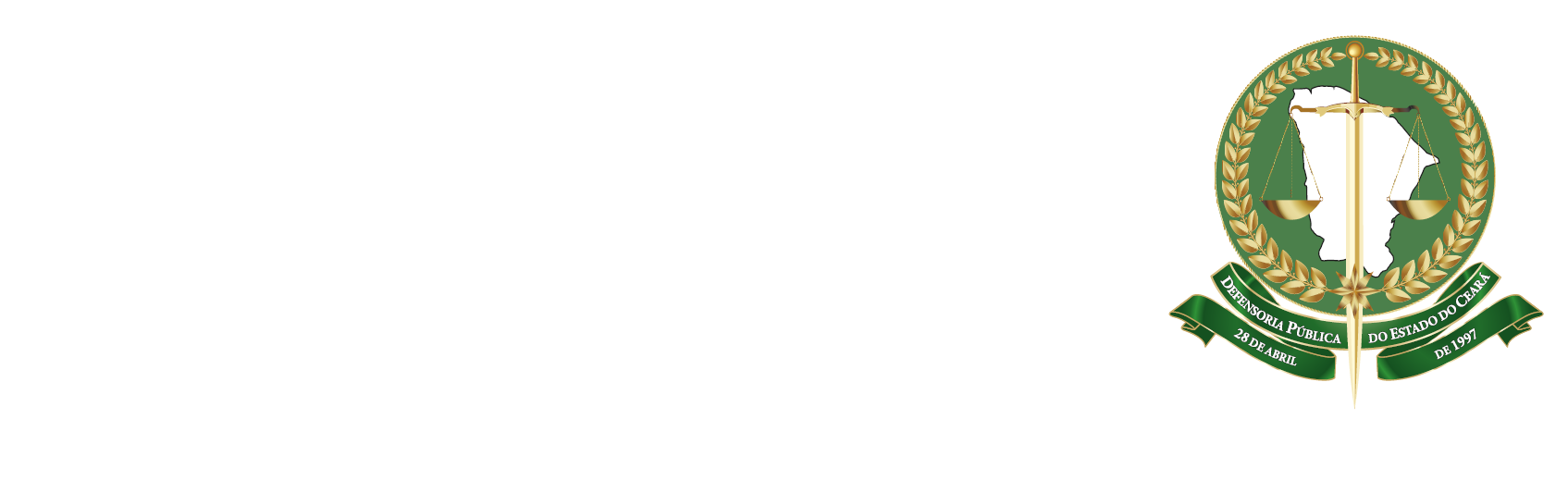Questões raciais, de identidade de gênero e de orientação sexual são apontadas como desafios à proteção feminina
Na quarta reportagem da série “Maria, Marias: 18 anos da Lei Maria da Penha”, uma ativista dos direitos humanos e uma estudiosa do tema comentam aspectos da lei e das políticas públicas voltadas às vítimas de violência doméstica e familiar. A maioria delas é negra. E há que se pensar em mecanismos de proteção a quem não é cisgênera ou heterossexual. Afinal, a legislação agora contempla essas identidades e orientações sexuais. Especial jornalístico encerra nesta sexta (9/8)
Texto: Bruno de Castro
Foto: Déborah Duarte
ILUSTRAÇÃO: VALDIR MARTE
Três características das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm preocupado quem estuda a questão e está na linha de frente do combate a essas violações de direitos. Apesar das recentes alterações legislativas que ampliam a aplicação da Lei Maria da Penha a todas as pessoas que se identificam com o feminino, falar sobre raça, identidade de gênero e orientação sexual ainda é algo que expõe o quanto as políticas públicas têm a avançar para a legislação proteger todos os tipos de mulheres (e não apenas aquelas em relacionamentos heterossexuais (com homens), cisgêneras (que se identificam com o sexo biológico com o qual nasceram) e de cor branca.
“As realidades de mulheres trans, travestis, bissexuais e lésbicas são grandes desafios pro que prega a Lei, que é um instrumento pedagógico, um dispositivo extremamente importante, um dos principais ganhos pra nós, mulheres, nos últimos 20 anos, mas algo ainda muito distante da realidade dessas mulheres. Se elas forem negras, então, é mais distante ainda”, analisa a integrante da Frente de Mulheres do Cariri, Verônica Isidorio.
Ela fala de uma das regiões do Ceará mais preocupantes quando o assunto é violência contra a mulher. Lésbica e negra, a ativista atribui à Lei Maria da Penha a melhor compreensão que a sociedade tem hoje sobre o tema, pelo fato de ter especificado, didaticamente, a quais tipos de violência uma mulher está exposta.


Para Isidoro, a legislação “nos permite dialogar de forma mais direta”, mas é preciso ampliar o debate e acolher as realidades adversas e diversas dessas mulheres tão plurais étnica e geograficamente. “Especificar os tipos de violência foi importante. Mas a gente tem muitos desafios ainda. E o natural é que a lei acompanhe as mudanças da sociedade. Que dialogue com o perfil médio da vítima, de mulheres negras, e com os movimentos sociais. Mas é preciso compreender a situação específica, sobretudo, de mulheres trans e travestis”, diz.
Objetivamente, um dos problemas é: enquanto mulheres cisgênero geralmente sofrem violência em casa e dos próprios companheiros ou familiares, as mulheres trans e travestis são violentadas em ambiente externo e no ambiente de trabalho. Muitas vezes, esse lugar é a rua, pelo fato de o único meio de vida por elas encontrado é tirar o sustento a partir do próprio corpo, já que comumente são expulsas pelas famílias quando revelam as identidades de gênero.
RAÇA E CLASSE
No tocante à raça, há uma relação com a classe social que não pode ser ignorada. “O recorte racial não foi considerado pelo Estado quando a Lei Maria da Penha foi pensada. Como mulher negra, digo que a lei não consegue ser direcionada de forma mais eficiente pras nossas questões. A maioria das vítimas é negra, das periferias, sem recursos financeiros e com pouca escolaridade. Pra que essa mulher violentada consiga chegar a um equipamento pra denunciar, ela já passou por inúmeras situações em que o racismo foi um empecilho: é o transporte, que não chega na periferia; é o acesso à informação; é essa pouca escolaridade influenciando na compreensão dos próprios direitos… Como ela vai conseguir recorrer à Lei Maria da Penha assim? Do jeito que a lei e as políticas públicas estão dispostas, é impossível”, reflete Verônica.
A ponderação dela tem respaldo estatístico. Estudos científicos indicam que são as mulheres negras as vítimas mais frequentes de violência doméstica no Brasil, cuja pobreza também empurra essas mulheres para os bairros mais periféricos. Nessas localidades, os acessos aos serviços públicos são precários e até a estrutura dos domicílios dificulta – ou mesmo impede – a vítima de tomar alguma providência por telefone, já que quase sempre são pequenos e comportam muita gente, inclusive o agressor.
O alerta é dado no sentido de expor que: apesar de todas as mulheres serem vítimas em potencial de violência doméstica, algumas correm mais risco. Elas têm cor, identidade de gênero e orientação sexual. E isso precisa ser levado em consideração quando da implementação de políticas públicas ou da criação de novos dispositivos dentro da Lei Maria da Penha.
“Embora a lei diga que é pra todas as mulheres, não tem dispositivo na lei específico pra o que é uma mulher negra em situação de violência. Se somos nós, mulheres negras, as vítimas mais frequentes, é preciso, então, haver uma ampliação. E temos batido na tecla da formação. Se o Estado não formar agentes que vão operar, na prática, essa legislação compreendendo a questão de raça e da identidade de gênero, a gente não vai conseguir avançar em relação a esses grupos específicos. Porque a violência contra a mulher vem com o racismo. A gente não pode deixar de trabalhar as duas coisas juntas. Mas, infelizmente, o Estado não quer apreender o racismo como uma realidade”, frisa Verônica Isidorio.

NÚMEROS ASSUSTADORES
A socióloga Fernanda Naiara integra o Laboratório de Estudos da Violência (LEV) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e reforça o peso sobre o argumento da raça afirmando que não existe lei nem política pública universal. Ou seja: as características das pessoas que vão ser protegidas por essa lei ou alcançadas por essa política pública devem ser consideradas. No caso da violência doméstica no Brasil, 58,2% das vítimas são negras, segundo o Atlas da Violência 2024. Estudiosa do tema, ela monitora indicadores de violência contra a mulher para a Rede de Observatórios de Segurança e classifica assim a situação:
“Os números são sempre assustadores. São altos e crescem. É muito alarmante. A Lei Maria da Penha é avançada, mas precisa ser mais aprofundada. Porque a violência é complexa e multifatorial, e atinge as mulheres de forma diferente. E a Lei ignora algumas vulnerabilidades. A raça não pode ser vista só como uma qualificadora do gênero, porque é a experiência racial que vai gerar práticas de exclusão, se a gente pensar em mulheres negras, ou de privilégios, se a gente pensar em mulheres brancas.”
No caso do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Nudem) da Defensoria Pública do Ceará (DPCE), 86% das vítimas em Fortaleza são mulheres negras e 79% estão sob medida protetiva, conforme levantamento interno do órgão. “Muitas vezes, ignora-se que ela sofre violência doméstica porque é uma mulher negra. O racismo vai impedir que essa mulher negra seja humanizada. Existe a lei, existe a política, mas essas mulheres não têm a cidadania reconhecida. E isso fala muito da nossa cultura, de naturalizar a violência sobre pessoas negras”, frisa Fernanda.
Ao acompanhar vítimas de violência doméstica à Delegacia da Mulher, a pesquisadora notou que, muitas vezes, essa mulher já tenta há muito tempo falar sobre os efeitos da violação de direitos. Mas não é ouvida, o que a leva essa vítima a não buscar ajuda onde deveria – nem no tempo que deveria (o mais precoce possível).
Pesquisas apontam que as mulheres levam até dez anos para conseguirem romper com o ciclo de violência doméstica. “Ela já falou pro médico do posto, pro médico da UPA, pra psicóloga, pra pessoa do Creas que atende o filho, pro dentista e não tem comoção. As mulheres negras têm portas fechadas e suas experiências são deslegitimadas. Mas, se elas estão vivas até hoje sem o cuidado do Estado, é porque estão traçando caminhos. Quando o Estado chega, é com algo distante da realidade daquele território. Não considera, por exemplo, os grupos armados. E há vezes em que a facção não permite que ela denuncie”, projeta a socióloga.